O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, duma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro-sangue dos desmancha-prazeres.
Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais pra afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado pra sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado! A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto.
Foi decerto por isto que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas “loucuras”. Essa fora aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos; desde o beijo às escondidas, numa prima, aos dez anos, descoberto por tia Velha, uma detestável de tia; e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, duma criada de parentes: eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de “louco”. “É doido, coitado!” falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos. Pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar um nada.
Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina: ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da Missa do Galo. Empanturrados de amêndoas e nozes (quanto discutimos os três manos por causa dos quebra-nozes…), empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas “loucuras”:
— Bom, no Natal, quero comer peru.
Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto.
— Mas quem falou de convidar ninguém! essa mania… Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida! Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa parentada do diabo…
— Meu filho, não fale assim…
— Pois falo, pronto!
E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita, diz-que vinda de bandeirantes, que bem me importa! Era mesmo o momento pra desenvolver minhas teorias de doido, coitado, não perdi a ocasião. Me deu de supetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães, três com minha irmã, as três mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo: vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa: uma imundície de parentes já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, três dias antes já não sabiam da vida senão trabalhar, trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem-feitos, a parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos pros que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz alvo. E isso mesmo era mamãe quem servia, catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa, peru resto de festa.
Não, não se convidava ninguém, era um peru pra nós, cinco pessoas. E havia de ser com duas farofas, a gorda com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprendera a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria tentação do Dianho aproveitar receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que com meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido, mamãe adorava cerveja.
Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem pra cima de mim a… culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral:
— É louco mesmo!…
Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma Missa do Galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado: assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também, estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modos que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão.
— Não senhora, corte inteiro! Só eu como tudo isso!
Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim, que até era capaz de comer pouco, só pra que os outros quatro comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobrira em cada um o que a cotidianidade abafara por completo, amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe mas estou pensando em Jesus… Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas.
— Eu que sirvo!
“É louco, mesmo!” pois por que havia de servir, se sempre mamãe servira naquela casa! Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados pra mim e principiei uma distribuição heroica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo dum pedaço admirável da “casca”, cheio de gordura e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru:
— Se lembre de seus manos, Juca!
Quando que ela havia de imaginar, a pobre! que aquele era o prato dela, da Mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer! O prato ficou sublime.
— Mamãe, este é o da senhora! Não! não passe não!
Foi quando ela não pode mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrima sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos pra não chorar também, tinha dezenove anos… Diabo de família besta que via peru e chorava! coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha pra sempre estragar nosso Natal, fiquei danado.
Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada, pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru, estava tão gostoso, mamãe por fim sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascido.
Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta, e, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer: nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora.
— Só falta seu pai…
Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi, triste:
— É mesmo… Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar pra nós, papai lá no céu há-de estar conten… (hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru) contente de ver nós todos reunidos em família.
E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo que “vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai”, um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso.
Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever “felicidade gustativa”, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar pra nós que, não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceber.
Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei: ah, que faça! mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade!
A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor… Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de “bem-casados”. Mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação.
Levantamos. Eram quase duas horas, todos alegres, bambeados por duas garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanha. Pra poder sair, menti, falei que ia a uma festa de amigo, beijei mamãe e pisquei pra ela, modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras duas mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose!…
***
NOTAS
1. A morte precoce de Mário de Andrade (1893-1945) incomoda. É triste ver amantes da vida saindo dela à revelia enquanto espíritos paquidérmicos seguem fazendo exames periódicos só pra continuar existindo. Aquele infarto não atingiu um indivíduo aflito em rolagens, investimentos financeiros e bombas da hora, mas esmagou o peito do autor de trechos como este, da introdução às Memórias de um sargento de milícias publicadas em 1941:
Muito moço, então com 22 anos apenas, Manuel Antônio de Almeida transferia a sua vida de aventureiro muito disponível, tanto de espírito como de existência, numa crônica semi-histórica de aventuras, em que relatava os casos e as adaptações vitais de um bom e legítimo “pícaro”, o Leonardo. E é comovente observar que contra os costumes dramáticos do tempo ele fazia o seu herói acabar bem, à feição dos filmes do cinema comercial, casado e nulificado em cinzenta burguesia. Talvez moço ainda, mas surrado pela vida, também ele sonhasse para si mesmo igual fim…
Ou este — com uma humilde vaidade flaubertiana no torno textual —, coletado duma carta por Maria Célia de Almeida Paulillo pr’enchumaçar o texto introdutório (dela) aos Contos novos publicados pela editora Villa Rica:
[…] eu também me gabo de levar de 1927 até 1942 pra achar o conto e completá-lo com seus elementos.
Ou este, do conto “O poço”, compilado nos Contos novos, em que capta as porcarias psicológicas dum labor muito mais submisso do que ele mesmo já experimentou:
O mulato sacudiu a cabeça, desesperado, engolindo raiva. A caçamba chegava e todos se atiraram aos preparativos novos. O velho Joaquim Prestes ali, mudo, imóvel. Apenas de vez em quando aquele jeito lento de tirar o relógio e consultar a claridade do dia, que era feito uma censura tirânica, pondo vergonha, quase remorso naqueles homens.
Ou este, do “Prefácio interessantíssimo” à própria Pauliceia desvairada:
E está acabada a escola poética “Desvairismo”. / Próximo livro fundarei outra. / E não quero discípulos. Em arte: escola = imbecilidade de muitos para vaidade dum só.
Ou este, do poema “Quarenta anos”, publicado em 1934, época em que ficou doente e entrou em crise existencial:
A vida é para mim, está se vendo,/ Uma felicidade sem repouso,/ Eu nem sei mais se gozo, pois que o gozo/ Só pode ser medido em se sofrendo.
E por aí vai. Sua fulminação aleatória serve pra lembrar que nesta roça somos animais quaisquer, embora o algo mais da estirpe, um brilho no olhar que a Morte desdenha, confira inúmeros poderes, sendo um deles o da lamúria: que pena o Mário, podiam ter levado outro no lugar. Não há efeito prático, mas há poético — coisa de quem aprecia o melhor das magias da espécie.
2. Um peru morto e mesmo assim este é o meu conto de Natal favorito. Claramente a predileção não se deve ao animal feito prato e sim ao milagre natalino que sucede ao redor do seu corpo esquartejado: a avareza dum sujeito burguês tenta manter a família cativa às “leis da economia” até na sua ausência perene; o filho se rebela contra o tacanho e exige o então luxo de comer peru no Natal — mais por amor à mãe e por rivalidade com o “puro sangue dos desmancha-prazeres” do que pr’atender aos apelos do próprio paladar —; a família se escora na “loucura” do filho e faz o que ele manda, com evidente animação em obedecer; o banquete servido não é garantia de nocaute — como diz um provérbio, muita coisa acontece entre o cálice e a ponta dos lábios —, pois a culpa toma conta da mesa e o defunto, com seus “meios visguentos”, volta a se agarrar ao pescoço dos presentes pra impedir sua fruição material; a luta é acirrada — o caso desde o início tem picos e vales, e um mímico ao lado da página passa a mão no rosto pra cima e pra baixo inúmeras vezes pra representar as oscilações triste-alegre-triste-alegre no conto; “hipócrita e político”, de repente o filho finge tomar partido do pai, santificando-o em prol da vitória do peru — e vencem. O restante da família acha que não há perdedores — mal tomou ciência de que participava duma disputa — e que o morto, finalmente empurrado pro “inestorvável” posto de “estrelinha no céu”, se rejubila ao vê-los consumir “com sensualidade” pr’honrar seus sacrifícios. Todos estão “alagados de felicidade”: uma nova era se inicia. O anjo da história se retira ao terminar sua missão e vai ver sua companheira Rose.
São três mortos triangulando: um pretexto, um combatente, um a ser combatido. Na fábula pagã e pés no chão, o peru toma o lugar do aniversariante — “Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus…” — e se torna cordeiro imolado pra que a família seja salva do erro de cultivar os pecados dum pai “acolchoado no medíocre”, “desprovido de qualquer lirismo”, que não sabe aproveitar a vida. É evangelho com beleza pr’apaixonar literatos e com moral pra converter mesquinhos que acumulam por acumular: leitura pra todo mundo.
3. Excetuando algumas dissonâncias — depois da morte […] acontecida antes; Natal de família […] felicidade familiar —, a abertura é ótima:
O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, duma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro-sangue dos desmancha-prazeres.
Do segundo parágrafo vale a pena puxar um rabinho pr’abertura:
Morreu meu pai, sentimos muito, etc.
Adiante há mais um desses indicativos de falta de paciência — o narrador sumarizando desimportâncias enquanto uma mão mole faz movimentos circulares e-então-isso-e-então-aquilo no ar:
Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc.
4. “O peru de Natal” foi esculpido e escovado por anos — a primeira versão saiu em 1938, a última em 1942 —, o que ajuda a explicar seu quilate. Mário se apossava das publicações de seus textos em periódicos e os ia rearranjando: ler noutra tipografia e moldura altera a percepção, e na maturidade ele não era um sapo-boi a se cogitar certeiro e definitivo de primeira. É uma lição pra quem se vangloria de escrever contos “numa tarde impetuosa” e termina não com uma história simples — como esta —, mas com uma história rala.
Em carta de 8 de agosto de 1942 enviada a Henriqueta Lisboa, Mário revela seu método pr’averiguar qualidade — engavetar o texto, esquecê-lo, voltar a ele como se fosse doutro autor:
Estou numa fase de bastante produção. Acabei um conto, fiz a versão definitiva de outro, e a primeira de outro. Esta saiu pavorosa, mas sou sempre assim e agora ainda ando pior. Tudo sai péssimo, porém algumas coisas consigo melhorar ao menos pra mim, satisfatoriamente. Vamos a ver com este. Joguei ele numa gaveta de pouco acesso. Lá por novembro pego e leio esse conto de outro autor e vejo se vale a pena melhorar. E será o trabalho.
Teria gostado do Manual do estilo desconfiado de Fernando Paixão:
O jeito é desconfiar. Uma recomendação possível e honesta diante do demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado — um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.
5. Conheci “O peru de Natal” pelo volume 10 da coleção “Para gostar de ler”, da Ática, que educou tanta gente e por muito tempo foi coordenada pelo poeta Fernando Paixão, citado acima. Depois o reli nos Contos novos da Villa Rica, edição de 1993, e por último o reli na edição de 2011 da Nova Fronteira, que (apesar da fonte tão pequena) recomendo pelos textos adicionais e pelo dossiê ao final tratando das modificações que Mário foi fazendo nas histórias.
#

Contos novos na edição da Villa Rica
#

Volume 10, dedicado a contos, da coleção “Para gostar de ler”
#
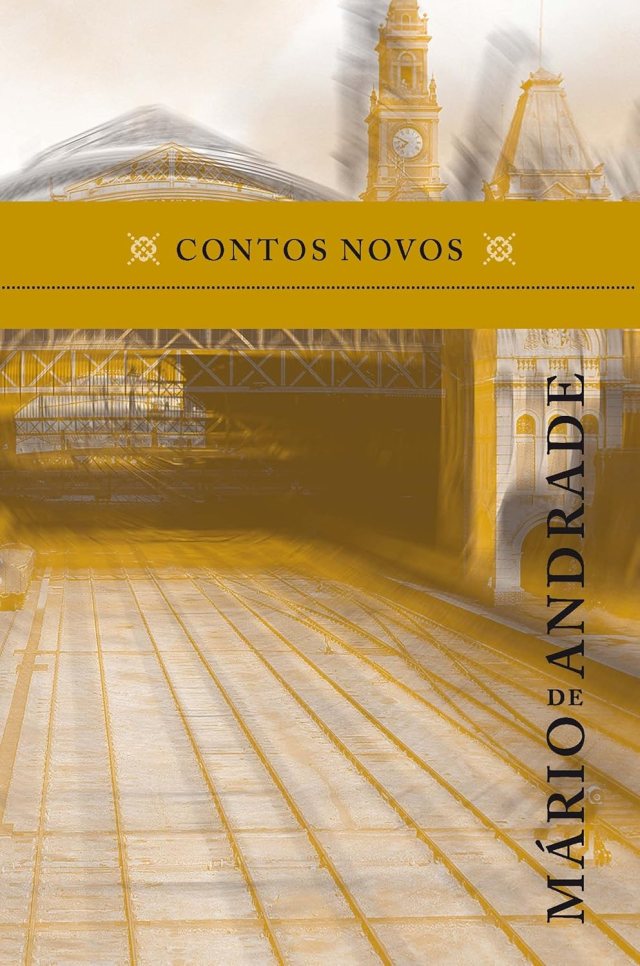
Contos novos na edição da Nova Fronteira
#
Pode se gabar, Mário. Só é pena que você não viveu o dobro pr’engordar sua obra eterna.
