Quase ninguém contesta o gênero masculino da expressão Dia dos Namorados. Dizer que o título “não é inclusivo com as mulheres” seria admitir a tese extravagante e psiquiátrica de que a data vinha se referindo, até então, apenas a casais de homens. Esse óbvio que ulula resiste à cruzada femista-identitária, mas tem baixo poder de influência, pois o termo “todos” segue a mesma lógica e ainda assim vem sucumbindo à peste, dando lugar ao idiocrático todos e todas. Coisa de quem toma Mountain Dew pra matar a sede e confunde esferas com cubos.
Pessoas inteligentes aderiram ao todos e todas — provando que não eram tão inteligentes —, e essa pasta de aspecto rigatoni pôde embuchar inúmeras panças porque intelectuais públicos da língua não querem se indispor com o progresso. Quando a desinformação real ou presumida provém da direita, sobem os mocassins na mesa do restaurante pra desmentir o que não é do seu domínio — tornam-se especialistas em vacinas, economia, Direito, estatística, criminologia, História. Quando ela vem de progressistas e trata objetivamente da sua área, fazem das próprias bocas túmulos ou mudam de assunto — vão falar de João do Rio, de métrica, de “glotocídio”. Um chavão merecia nascer pra registrar esse frango constante e proposital: tão inútil quanto um intelectual público.
Num ambiente propício ao erro que não é corrigido “pra não ajudar o outro lado” — pensamento que nessa conjuntura torna pensar um verbo defectivo —, o índio mineiro e membro da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak estreou uma coluna na Folha de S.Paulo, em maio de 2024, gorgolejando parágrafos feios, confusos, bajuladores, deslumbrados e isto:
A vocação patriarcalista está presente nos textos das narrativas quando a gente começa uma história dizendo qualquer coisa como “meus colegas”, pois estamos generalizando o gênero.
Que estreia: uma tuba triste toca à beira da piscina vazia e o garçom passa oferecendo canapés de margarina pr’acompanhar a água de torneira que sorvemos das nossas mãos em concha.
Cláudio Moreno, linguista gaúcho intransigente com a ideia de que “o conhecimento científico recue diante de patrulhadores que elevam o tom de voz para esconder a falta de estudo”, teria aulas pra dar ao imortal que toma chá com seus colegas e suas colegas. No artigo “Sexismo na linguagem” — duplamente não datado; raridade da divulgação linguística na internet —, Moreno responde a uma leitora incomodada por ter visto num jornal paulista a manchete “Fulana de Tal foi o quinto juiz suspenso este mês pela Comissão de Arbitragem”. Ela também se agasta com o fato de um homem entre inúmeras mulheres tornar masculina a concordância do grupo — “o menino, sua mãe, sua tia e suas três irmãs foram convidados para o jantar” —, o que revelaria, segundo sua visão, o “viés claramente sexista do português”. O professor põe a ciência pra serenar os ânimos de quem dá assento ao coração quando a cabeça não pilota:
Minha cara leitora, não me leves a mal, mas vou discordar integralmente do que dizes — com todo o respeito. Primeiro, nossa gramática não tem o “viés” (palavrinha da moda…) sexista que lhe atribuis; segundo, é impossível mudar essas regras; terceiro, mudanças introduzidas na linguagem não têm o poder de alterar a realidade objetiva; quarto e último, o jornal estava corretíssimo ao usar juiz, e não juíza. Vamos por partes. Em primeiro lugar, essa “supremacia” do masculino que nos leva a usar convidados, e não convidadas, na tua frase (e que faz o dicionário registrar os substantivos no masculino singular — aluno, lobo, prefeito) — essa supremacia, repito, é ilusão. Mattoso Câmara Jr. fez, nos anos 60, a descrição definitiva do sistema de gênero e número de nossos substantivos e adjetivos: o plural é marcado por S, enquanto o singular se assinala pela ausência desse S; a marca do feminino é o A, enquanto o masculino se assinala pela ausência desse A. Sabemos que aluna, mestra e professora são femininos porque ali está a marca; inversamente, sabemos que aluno, mestre e professor são masculinos porque ali não está a marca. Por isso, quando quisermos ser genéricos, podemos usar o singular, masculino (ou seja, o número e o gênero não-marcados): “O brasileiro trabalha mais do que o inglês” (entenda-se: “todos”) — e por esse mesmo motivo o dicionário assim registra os substantivos. Paradoxalmente, o gênero que exclui é o feminino: se dissermos que o aumento vai ser estendido aos aposentados, homens e mulheres estão incluídos; se for, porém, estendido às aposentadas, os homens estão fora. Se o jornal escrevesse que “Fulana de Tal foi a quinta juíza afastada do cargo”, estaria afirmando que, além dela, quatro outras juízas tinham sido afastadas. Como esse não foi o caso — os quatro suspensos antes dela eram homens —, o jornal teve de usar juiz, que engloba o masculino e o feminino.
Leitores que recorrem a um dos jeitos de tentar vencer um debate sem ter razão — somente xingando — chamaram Moreno de “machista” e “retrógrado”. Dada a repercussão, o texto ganhou uma segunda parte, donde se destaca esta extensão:
[…] uma expressão como meus amigos sempre terá dois valores — um, mais restrito, que se refere apenas aos amigos homens; outro, mais genérico, que funciona como uma espécie de neutro, designando tanto os amigos masculinos quanto os femininos. Por que isso? Porque o masculino é o gênero não-marcado, inclusivo, enquanto o feminino é um gênero naturalmente excludente; ao falar de minhas amigas, falo das mulheres, e apenas delas. Não é, pois, uma mera atitude que possamos mudar de acordo com nossa vontade; trata-se, isso sim, da maneira como a língua se estruturou ao longo de sua formação, e não vai ser alterada pela decisão de um grupo, por mais numeroso que seja.
E adiante:
O principal defeito de seu raciocínio é confundir (1) a relação masculino-feminino do sistema morfológico do Português, que é imutável, com (2) a recusa que certos setores da sociedade ainda têm de usar os femininos de cargos e funções — esta sim, uma atitude censurável e que pode (e deve) ser reformada em pouco tempo. No primeiro caso, o uso do masculino como forma abrangente é indispensável para o funcionamento de uma língua como a nossa, em que o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo e o particípio concordam em gênero com o substantivo que acompanham. Se a cada masculino acrescentássemos a forma feminina correspondente, deixaríamos de falar o Português e passaríamos a nos comunicar numa algaravia repleta de ecos intermináveis. Asseguro aos defensores da “inclusão linguística” que uma frase do tipo “os dez cantores premiados serão reunidos no auditório, onde os admiradores poderão fotografá-los” fará muitíssimo menos dano que algo impronunciável como “os cantores premiados e as cantoras premiadas, num total de dez, serão reunidos e reunidas no auditório, onde os admiradores e as admiradoras poderão fotografar a eles e a elas”, frase tão repetitiva e prolixa que lá pela metade já esquecemos do que ela está falando.
Até pouco tempo atrás inferíamos que o gênero masculino tem também função neutra, genérica. Assim como o Dia dos Namorados não cobiçava o consumo exclusivo dos casais de homens, o masculino usado diante duma plateia de dois gêneros não era compreendido como referente apenas aos que se identificam com a ala da barba (seja ela biológica, cultivada, postiça ou simbólica). O que explica o desaprendizado desse tópico é mais uma campanha encabeçada por acadêmicos e depois infiltrada nos poderes, da política ao entretenimento.
Parece que às vezes a diferença entre o ignorante por inércia e o ignorante por esforço é a universidade, onde algumas pessoas estudam pra se tornar burras, produzindo conteúdo suficiente pra montar os jornais O Burro da Manhã, O Burro da Tarde e até O Burro da Noite. O suplemento cultural dos finais de semana, com dezenas de páginas lisonjeando figuras como a slammer Midria na FLIP de 2022 e a escritora Conceição Evaristo — autora do neologismo composto “buraco-perna” pra designar a vagina duma personagem que também “lacrimevaginava” no pênis do parceiro portador de “ovos-vida” —: Burríssima.
*
Ainda que houvesse uma ascendência “patriarcalista” pra explicar o masculino como genérico na língua portuguesa, isso hoje não teria valor prático: não nos comunicamos calculando etimologias, mas usando o sentido que as palavras têm na nossa época e de acordo com o contexto. Com “este rapaz” queremos dizer “este jovem”, e não “este ladrão” — o significado original e quase perdido do termo. Denegrir, que ninguém provou ter primórdio racista, só passou a ser tabu (Michaelis: “proibido por crença supersticiosa”) quando palpiteiros deliberaram, na penúria das suas bagagens culturais — uma meia velha com um punhado de areia —, que toda acepção negativa da palavra negro se deve à cor de pele.
Como nem sempre os intelectuais-especialistas optam por manter segredo ou tergiversar quando uma polêmica progressista errada lhes diz respeito, alguns deles chancelam paranoias se filiando à corrente que vai lavar os pecados linguísticos recém-inventados no catecismo dos oprimidos. Foi assim que Sérgio Rodrigues — jornalista versado em língua e linguagem; sucessor do Professor Pasquale na Folha — expulsou denegrir do seu tesouro. Numa coluna de junho de 2022 intitulada “Vamos femenagear o ovulário?”, ele remata:
Se é provável que criações como ovulário e femenagem estejam destinadas ao esquecimento ou ao ridículo, o caso do verbo denegrir prova que nem sempre a banda toca assim. Apesar de isento de conotações raciais em sua origem, denegrir vai se tornando um termo proscrito devido à associação de um sentido intensamente negativo à cor negra. De minha parte, já vai tarde.
Está fácil firmar poder sobre a expressão defenestrando uma palavra. Invento que ela me insulta, espalho vitimismo nos setores influentes da sociedade que têm pena de mim, e quem a empregava sem vontade clara ou tácita de ofender passa a vê-la como maculada, embargando seu uso. Com um significado novo, manipulado — que seria uma impostura pintar como evolução da mera língua viva —, torna-se proibitivo pô-la em textos falados e escritos: “isso é racismo agora”. O regimento interno assim-é-se-me-parece dos ofendidos profissionais é elevado a estatuto que devemos todos respeitar & reconhecer — dupla de verbos que virou subterfúgio pra consolidar um tipo torpe de relativismo que só aplica seu deixa-disso em seleções especiais do povo. Porque relativistas soam tão acima de nós, tão extraterrestres com seus desafios ¿o que é o certo e o errado?, mas quase sempre estão advogando pelo absoluto de alguém.
Faz alguns anos que Rodrigues anula o que sabe pra vir balançar a meia estropiada de estranhos na nossa cara. Quem denegriu denegrir imputando-lhe racismo merece ralho seguido de abandono pelo pitaco arrogante, mas alguns intelectuais preferem incentivar e difundir lorotas que supostamente fortalecem minorias. Não importa que Francisca não seja racista, pois uma galera legal está assegurando que é, então ela passa a ser. Ou, pelo raciocínio de Rodrigues: “Francisca não é racista, mas como a acusação pegou, melhor a gente não andar com ela”. Já vai tarde.
John Harvey, professor de literatura inglesa, escreveu um estudo amplo sobre o preto — The story of black, sem versão em português brasileiro — e outro sobre o valor das roupas pretas ao longo dos séculos, Homens de preto, publicado no Brasil pela editora Unesp. Em ambos os livros ele investiga a riqueza duma cor intrigante “por poder significar tantas coisas opostas na arte e na poesia, na moda e nos funerais”. Seu segundo capítulo de Homens de preto sintetiza logo no início a amplitude geográfica dos sentidos positivos e negativos da cor:
O preto é de uma grande riqueza e tem muitos significados, mas seu valor mais reconhecido e fundamental ainda é sua associação com a escuridão e com a noite, e com o imaginário natural e antigo que conecta noite e morte. Em sociedades primitivas em vários continentes, um pigmento preto lambuzado na pele é associado ao mal, à morte, à doença, e também à feitiçaria e ao infortúnio. Seus guerreiros, ao partirem em guerra, muitas vezes escurecem a pele, tanto para parecer maiores quanto para amedrontar os inimigos com a visão da morte. Nas mesmas sociedades, o preto pode também ter valores positivos e ser associado, por exemplo, a nuvens negras que trazem a tão esperada chuva, ou à lama aluvial que promete uma nova germinação. Pode ser associado a um desejo noturno, ao amor fecundo e sensual: a mulher pode escurecer sua vulva com fuligem de casca de árvore, o homem pode decorar seu corpo com especularita triturada (hara) para alcançar “uma beleza sem igual graças ao negror do hara”. Mas, mesmo nos povos de pele escura, que têm orgulho de sua bela cor e usam pigmentos pretos como uma elegante decoração, o uso do preto como artefato, como pigmento a ser aplicado — e mesmo como palavra e ideia ética — parece ter associações negativas. Black is beautiful: mas, ainda assim, em linguagem e em decoração, existe um grande espaço para um negro negativo — para a percepção, aparentemente difícil de evitar, que morte, praga, sofrimento, feitiçaria, poluição, pecado, traição, doença são “negros”. Por sua vez, isso pode significar que a associação de pigmentos pretos com atração sexual não é somente resultado de uma natural atração pelo brilho e lustre da cor negra, mas também, como no Ocidente moderno, de uma percepção de perigo que torna o preto excitante, ousado. Do mesmo modo, o fato de que o pigmento preto possa ser restrito a pessoas de mais de vinte anos, por exemplo, pode significar que o negro profundo é (e por que não?) a cor da maturidade. Mas sugere também que o negro deve ser usado com precaução, sendo a cor de questões obscuras que não devem cair nas mãos de qualquer um: muitos níveis de iniciação são necessários antes que ela possa ser usada.
Dedos em pinça; afastem-se os dedos; retome-se:
[…] mesmo nos povos de pele escura, que têm orgulho de sua bela cor e usam pigmentos pretos como uma elegante decoração, o uso do preto como artefato, como pigmento a ser aplicado — e mesmo como palavra e ideia ética — parece ter associações negativas. Black is beautiful: mas, ainda assim, em linguagem e em decoração, existe um grande espaço para um negro negativo — para a percepção, aparentemente difícil de evitar, que morte, praga, sofrimento, feitiçaria, poluição, pecado, traição, doença são “negros”.
Povos de pele escura não dão conotações também negativas ao preto por autorracismo. Isso não combinaria com a estima pela própria pele, que se não é uma característica de todos — como faz crer a vírgula que separa “povos de pele escura” de “que têm orgulho de sua bela cor” no excerto de Harvey — pode ser uma característica de muitos. Fazem-no pela realidade duma cor larga de significados que inspira temor, respeito, beleza, escuridão. Um preto que representa a noite, o breu, o desconhecido. Incultos diplomados e — ¿você está ouvindo esse zumbido? — psicóticos crentes de que a vida é um grande cambalacho estrutural que tenciona prejudicá-los em toda esquina, bom-dia e padaria não apenas apequenam a língua, seu bonsai, mas as boas vertentes da cultura pelas quais ela desliza. A tribo de amigos que é o continente africano da perspectiva de quem o aliena dos fatos porque só consegue se apaixonar por identidades-fantasia não escapa da sina mundial de ter trajetos da sua expressão inspirados pela natureza. Isso pode ter implicações ruins em condições apedeutas — no terceiro capítulo de Homens de preto, Harvey trata duma cultura europeia que associava a cor escura ao pecado e ao diabo, e o que acontece quando se descobre a existência de pessoas com essa cor —, mas não é nessas condições que os anacrônicos canceladores de denegrir estão pactuando.
*
Como Rodrigues não quer correr o risco de ser confundido, nem de soslaio, com um bol-so-na-ris-ta (os hífenes aqui sugerem uma pronúncia bem de-cla-ra-da das sílabas), ele vai se entusiasmando com quase tudo de neurodivergente que pareça se opor àquela lepra. Depois de justificar a abolição de denegrir com base num sentido racial fabricado — em vez de entender o termo pelo que ele realmente valia no trânsito textual —, o escritor foi ser sonso noutra campina (Michaelis: “campo sem arvoredo, coberto de vegetação rasteira”): a linguagem neutra. Na coluna “Ficar neutro não é uma alternativa”, de junho de 2024, pra Folha:
Começo pelo fato recente, que rendeu manchetes. Ao engrossar a maioria formada no STF para declarar inconstitucionais duas leis municipais — uma em Goiás e a outra em Minas Gerais — que proíbem a linguagem neutra, Zanin declarou uma obviedade em forma de ressalva: que o emprego de pronomes e terminações não binárias destoa “das normas da língua portuguesa”.
Mas não é exatamente essa a ideia? Ninguém que escreva “todes” ou “elu” faz isso esperando ser condecorado com a medalha Napoleão Mendes de Almeida de melhor aluno de gramática normativa.
Pelo contrário, trata-se de uma intervenção política na língua, uma irreverência destinada a chamar a atenção de quem lê para problemas reais de exclusão de minorias. Invocar a famigerada norma culta contra isso chega a ser uma platitude.
[…]
Não está descartada uma lei, quem sabe até uma PEC, que condene quem escreve “amigues” à internação compulsória em clínicas cívico-militar-religiosas.
[…]
Como já escrevi em outras ocasiões, acho improvável que grupos de pressão consigam mexer em estruturas gramaticais sedimentadas ao longo de séculos. Mas a verdade é que não sabemos.
Contudo, acredite-se ou não que pôr a linguagem neutra em relevo atente contra a língua, dê munição barata ao populismo de direita ou desvie o foco de lutas mais importantes no plano das políticas de inclusão, estamos falando de um fato social do nosso tempo.
E não é só no Brasil, esse país em que tanta gente conservadora que escreve gato com jota vê ameaças ao establishment gramatical em cada esquina: “gender-neutral language” e “écriture inclusive” são temas de debate mundo afora.
Daí decorre que leis como as que o STF declarou inconstitucionais, ao tentarem interditar a conversa na grade curricular e em documentos oficiais, são puro atentado à liberdade de expressão.
Em seu artigo para o livro “Linguagem ‘Neutra’: Língua e gênero em debate” (Parábola), lançado em 2022, o linguista Sírio Possenti observa que, “independentemente de se chegar a uma solução de consenso entre as alternativas postas […], a questão está posta. Seria indecente não reconhecer sua relevância”. Voto com o relator.
Não basta o palhaço todos e todas, pois quanto pior, melhor: desdobra-se um insolente todes pra marcar posição, afetar complexidade nos caracóis explanativos dos estudos de gênero e testar até onde os fiéis pós-modernos estão dispostos a ir ante qualquer bobagem que uma coitada minoria inventar.
Rodrigues poderia ter usado sua autoridade pra mostrar, com paciência e pedagogia, como a linguagem neutra é artificial, difícil, furada. Conquanto opinioso sobre variados processos e modismos da língua, nesse episódio de evidente fiasco comunicativo o Jornalista do Português escolheu se situar no muro às vezes maroto do não-à-opinião-sim-à-compreensão: equilibrando um catre e um abajur sobre ele, embora balançando as duas pernas pro lado das “minorias excluídas”. As titulações ainda não são todas à toa, a instrução formal não é à toa, o prestígio angariado pela alma mater não é à toa, mas quando quem pompeia esse arcabouço se recusa a expor o que sabe nos palanques que conquistou pra desenredar problemas coletivos ou se esquiva da racionalidade pra não incomodar o melindre ideológico, e quando os intelectuais não públicos — tímidos, de gabinete, com horror à arena — também não querem participar da babel, está livre o terreno pra que venham os peões.
Se Pilatos lava as mãos linguísticas e vai ao cinema, e se a pipa da crítica literária profissional não sobe mais, é hora do civil interessado — que não depende de beija-mão em feiras e editoras pro croissant de cada dia, que vai aos livros por gosto e não pra obter um grau — ganhar espaço. Não é roubo de protagonismo, já que está-se falando dum lugar vazio que os intelectuais, públicos ou privados, se negam a ocupar. E é claro que o remédio tem uma composição questionável quando receitado em ampla escala: como o método autodidata concebe apenas meia pessoa de valor pra cada centena de palermas, tomadores de atalhos, jargonistas e fanfarrões que não pesquisam nada com profundidade antes de soltar pareceres, corre-se o risco de conceder ainda mais relevância aos clubes de várzea que vêm dominando a internet. Mas não custa incentivar que a ralé se aprimore, estude, abra a mente pra enfrentar a vida intelectual, tenha a humildade de reconhecer suas limitações e pense.
Já que sumidades preferem dispor da sua formação (muitas vezes custeada com dinheiro público) apenas como distintivo de classe e trunfo curricular pra subir na carreira, outra vez venho do andar de baixo pra falar do que virou assunto delicado. Doutores que sentirem que derrubo cercas e invado suas propriedades — inutilizadas; pura acumulação que não atende a nenhuma função social séria — podem tomar vergonha na cara e fertilizar o solo morto que tentam esconder sob o colchão na hora em que os sem-terra aparecem com rastelos e sementes.
Como há indivíduos que estudam por mais de década pra serem capazes de desancar indigência intelectual e literária, é justo que eles sejam cobrados conforme suas capacitações. Se não comparecem de modo crônico, tornam explicável que uma parte da população os considere desnecessários — em alguns casos parasitas —, substituíveis pelo cidadão comum curioso. Ficamos de pé na varanda, segurando uma lamparina, aguardando que construções “não binárias” fossem ridicularizadas pela competência, mas desistimos e fomos dormir. Quando conveniente, papagaios da opinião alegam que são apenas modestos observadores sociais aos quais não cabe emitir juízos nos seus distritos.
Emitimos nós. Seguem algumas construções na estrutura habitual do português e, logo na sequência, possíveis versões “não binárias”:
Entregou a bola aos meninos.
Entregou a bola aes menines.
Assistiu à Cristine na televisão.
Assistiu ae Cristine na televisão.
Minha amiga enfrentou sua irmã, dizendo a ela: ¡safada!
Minhe amigue enfrentou sue irmane, dizendo a elu: ¡safade!
Gaiola das loucas.
Gaiola des louques.
Deram-no como morto.
Deram-ne como morte.
Roubá-lo-ão amanhã.
Roubá-le-ão amanhã.
Vê-lo-ei na festa.
Vê-le-ei na festa.
Ele é perfeito pra namorada dele.
Elu é perfeite pre namorade delu.
(Sendo, no contexto, para + a = pra, portanto para + e = pre.)
Atenção, senhoras e senhores administradores.
Atenção, senhoras administradoras, senhores administradores e senhories administradories.
Eles foram à festa que a aeromoça promoveu.
Elus foram à festa que e aeromoce promoveu.
O encanador saiu daqui machucado.
E encanadore saiu daqui machucade.
Minha avó e minha tia são guerreiras.
Minhe avôe e minhe tie são guerreires.
O ateu está nu.
E ateie está nue.
Pralguns casos precisei me valer do Manual para o uso da linguagem neutra em língua portuguesa, escrito por Gioni Caê, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (situada no Paraná), que se identifica como “negro trans não binário”. No manual sua autodefinição está no masculino, mesmo. Nem Gioni dá conta de viver as teorias que prega.
E há dúvidas que exigem mais afundamento: ¿qual é o equivalente não binário do casal pai e mãe? Em 2018, num fórum virtual, ume usuárie com avatar de unicórnio apresentou estas opções:
Há também quem chama de guardiães/ guardianes (guardiã/os), mões, xais, mais, xães, pões, nães, nais, naes (uma boa alternativa), nões, xaes, xadres (ni madre ni padre), nadres, quadres e quidres (queerizades), tem aquelus que gostam de falar (pro)genitores/ genitoridade mas é bioessencialista. Naterno/ naternal e naternidade é uma alternativa neutra para paternidade e maternidade, outras possibilidades seriam saternidade (lembra saturno), neturnidade (netuno), pluternidade (plutão) e quaternidade.
Decaíram muito os diários do hospício. Os psiquiatras do debate público veem essa doença cultural se espalhar e o que ofertam pr’audiência é um tap-tap no cocuruto des marginalizades — guardianes, xães, pões, nães, nais, xadres de ideias estapafúrdias e vaidosas.
Se vaidade não fosse o diagnóstico patente dos não binários, haveria uma solução simples pra quem não se identifica com as construções históricas mais rigorosas que marcam os gêneros feminino e masculino: “pode me chamar de ele ou ela, tanto faz”. ¿Em dúvida sobre como se referir à múltipla Nane, que às vezes sai de casa parecendo um soldado, às vezes tem modos de fada e às vezes é um soldado-fada? Tanto faz. Pense que não querer se encaixotar nas culturas sexuais é aglutinar essas culturas tão amplas, móveis e intercambiáveis — não se criou nada neutro do zero: tudo já estava aí.
Não há gênero social mais neutro que o de tantos objetos, fenômenos naturais e sentimentos. E no entanto a cúpula do patriarcal português não veio alfaiatar a língua, almejando reconvencioná-la, pr’atribuir o masculino às coisas másculas e o feminino às coisas fêmeas. Temos A arma, A ponte, A guerra, A rocha, A caçada. Doutro lado, O capim, O mosquito, O córrego, O cílio, O lóbulo. Elementos que são neutros fora da poesia — como a chuva, o tijolo e a esperança — seguem a estrutura do português: são designados no masculino ou no feminino, não importa como se manifestem — se com violência, delicadeza ou características historicamente unissex, ou se são manejados e sentidos mais por mulheres ou por homens. Mas Alisson não se conforma com essa proposta sem graça — apenas reformista, e não revolucionária — de ser considerade bigênero, ele & ela, ambivalente. Alisson quer um português novo que nem o abajur de gênero socialmente neutro e nem a goiabada de gênero socialmente neutro têm. Está disposte a denunciar quem não obedece sues ordens como intolerantes. Acríticos submissos à tirania dos paradoxais empoderados frágeis usam todes em qualquer roda onde Alisson esteja — “pra não ofender”.
Alisson não é ume admirável vanguardiste. Alisson é uma pessoa mimada, fútil, que reforça papéis de gênero em vez de suavizá-los e que tem seu narcisismo acarinhado pelo tipo de linguista que é consultor do UOL. A vovó está certa ao preferir que e autoritárie Alisson não apareça nos seus almoços de domingo, e ao recomendar à família que “esta garota — ou este garoto, sei lá — precisa dum psicólogo”. O que a vovó não sabe é que há psicólogos modernos que incitam esses delírios em vez de corrigi-los, e que perturbados são ainda mais desconcertados nalgumas clínicas. Estamos dependendo de nós mesmos, de livros publicados antes da peste e dum tal bom senso, rotulado agora como reacionário, pra entender o mundo real e ponderar qual deve ser a nossa conduta sobre as coisas.

Falta guerra pra quem tenta despistar o esplim com
fantasmas opressores [Imagem The haunted lane, 1889]
Não binários que demandam a ruína da gramática mais fundamental do português pra forçar um gênero neutro que muitas vezes nem cabe na estrutura do nosso idioma são ególatras. Andróginos — que também misturavam roupas, acessórios e trejeitos de homens e mulheres — não faziam dessas exigências que desgastam o cérebro à toa e que aceleram o subdesenvolvimento nacional. Mas a androginia, pelo visto, é considerada decadente: foi tão apagada que só falta quem se habilite a escrever seu obituário.
*
Vi adultos vestidos de bebê — que “se identificam” como bebês — nas redes sociais e num portal de notícias. Bebês de fato simplesmente são, mas um adulto que se identifica com eles precisa de empréstimos duma fase avançada do desenvolvimento pra manifestar sua preferência, dar entrevistas, cobrar “respeito”. Algo parecido acontece com aqueles que se identificam com animais, mas usam a língua falada e escrita dos humanos — e não zurros, grunhidos ou relinchos — pra redemoinhar suas idiossincrasias. Engraçado: são situações nas quais você precisa recorrer ao que é — um adulto, um humano — pra tentar nos convencer daquilo que não é — um recém-nascido, uma capivara.
Imagino que doentes de relativismo — um exercício mental útil, mas desvirtuado e reduzido ao absurdo — se sintam compelidos a aceitar mais essas excentricidades de “minorias excluídas”. Se não têm esse impulso, deve ser porque a propaganda dos velhos nenês e dos cavalos batizados na igreja católica ainda não fez os apelos corretos às instituições e aos formadores de opinião. Afinal, ¿quem decidiu que adultos não podem brincar com os dejetos das suas fraldas e andar pela Avenida Paulista arrastando um chocalho? ¿E que mal tem uma pessoa fazendo quá-quá no lago e cuidando de suas novas asas impermeáveis sem importunar ninguém? ¿E o que custa modificar a língua pra “lançar luz” pruma causa como a dos pobres não binários e finalmente acolhê-los na sociedade?
Pode-se revidar todo cínico-relativismo a favor de pautas pretensiosas das ditas minorias com cínico-relativismo a favor de qualquer manifestação hegemônica. Se o intuito é mostrar que não existe certo ou errado, cultura superior ou inferior, o jogo vai pra todos os quadrantes, inclusive praqueles que progressistas execram. Logo teríamos como consequência o partidarismo da selvageria, que niilistas extremos em tese talvez achem aborrecido na prática, até porque com essa cara de lorpas e com esse espírito murcho certamente seriam subjugados por uma oligarquia de aproveitadores da moda da fraqueza relativizadora pra passar suas vontades. A anarquia seguida pela ordem de quem acha que se deve fazer uma escolha cultural — a própria — seria abominável pra quem apostou que o vale-tudo não ultrapassaria fronteiras, mas a relativista que mora em mim acharia essa reviravolta antropologicamente fascinante.
***
NOTAS
1. A Boitatá, selo infantojuvenil da editora Boitempo, traduziu uma coleção espanhola dos anos 70 chamada Livros para o amanhã. São quatro títulos sobre democracia, ditadura, classes sociais e papéis de gênero, e todos vêm com este aviso na apresentação:
Uma advertência geral, que fazemos quanto aos quatro títulos, é que toda vez que aparecer no texto a palavra “todos” as leitoras e os leitores mais jovens devem entender que ela inclui todas as mulheres e todos os homens. Nos anos 1970, as pessoas achavam que essa distinção não era necessária, mas hoje sabe-se que o correto é usar sempre as duas formas.
É de menino que se entucha o pepino ideológico.
2. A apresentadora Xuxa Meneghel estava participando da 7ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial e foi palestrada por uma “Inteligência Artificial Antirracista”, batizada como Deb, por causa da música “Brincar de índio”. Disse Deb:
Eu vi uns vídeos de você toda fantasiada de indígena cantando frases do tipo: “índio fazer barulho, uh”. Achei um tanto inapropriado, você quer que eu te explique o porquê? Entendo muitos dos erros dessas gravações, desse tipo de performance, mesmo sendo uma tentativa lúdica de abordar o assunto com crianças. Atualmente, entendemos que o termo “indígena” é mais adequado, porque “índio” generaliza os povos originários. Foi só um termo que os colonizadores deram em um total desprezo com as culturas e línguas que já estavam aqui. Indígenas não fazem barulho. Indígenas são mais de 300 povos que falam várias línguas e têm várias formas de expressões de suas etnias que precisamos aprender.
a) A música — composta por Sullivan e Massadas, cantada pela Xuxa — celebra os índios. Celebra tanto que os romantiza, como ao dizer que “índio não faz guerra” — o que é justificável, já que a peça foi criada pro público infantil (também não cantamos pras crianças os comportamentos agressivos de seus admirados leões e golfinhos). Meninos com seus bonequinhos de índio servindo de caça pros seus bonequinhos de homem branco foram imersos noutra forma de enxergar os índios.
b) Não há problema na fantasia de índio, assim como não há problema quando pessoas que não pertencem à cultura alemã vão pra Oktoberfest e se vestem de germânicos típicos. Homenagem ou diversão, a fantasia usada em ocasiões especiais parece ofensiva só pra quem está dopado da ideia de que ficar ofendido é o máximo. Também parece ser uma polêmica pra categorias vistas como inditosas: mulheres, índios, africanos. Vista-se de Fritz ou de caubói texano no Carnaval e você não será importunado por beatos identitários de baixa autoestima.
c) “Índio generaliza os povos originários.” Indígena também generaliza: se alguém se define como indígena, você ainda tem que perguntar de que tribo a pessoa é pra especificá-la. A depender do contexto — e ele geralmente é favorável, sem arapucas vexatórias —, não é demeritório ser generalizado como sulista, brasileiro, latino-americano, ocidental.
d) O fato do termo “índio” ter nascido como um engano porque Colombo julgava ter encontrado as Índias também não é motivo pra sua destituição: faz parte da vivacidade da língua que palavras corriqueiras não sejam degoladas só porque não são precisas ou politicamente corretas na sua origem. Se a origem imprecisa ou ruim duma palavra antiga for justificativa pra acossá-la, há inúmeras expressões do nosso vocabulário rotineiro que desaparecerão. (Um doente mental lendo isso já vai gostar da ideia e começar a chafurdar a origem das palavras que usa pra poder eliminar aquilo que é “ofensivo”.)
2.1. Apareceram outras bizarrices na antiaula (contra-aula, não aula, decolonizaula) que Xuxa ganhou da inteligência artificial alimentada com burrice orgânica. Elas estão na matéria do F5, da Folha.
2.2. Não existe problema na opção pelo termo indígena como substantivo. Problema mesmo é que os seus optantes costumam assentar policiais ancudos sobre a expressão de quem usa indígena como adjetivo e mantém o bonito índio como substantivo. Em vez da expansão vocabular, ode à estreiteza, e por ressentimentos anacrônicos que estapeiam a língua viva.
2.3. Caso semelhante ocorre com a palavra estadunidense, tratada por alguns progressistas como “a única forma correta de se referir a quem é dos Estados Unidos” — quando há pelo menos três “formas corretas” e corriqueiras de se referir a quem e ao que surgiu naquele país: estadunidense, americano e norte-americano.
Como nos polos raramente há salvação, críticos do termo estadunidense que tentam dar aparência de razão & ciência pras suas birras também cometem os pecados intelectuais da preguiça e da soberba. Em primeiro lugar, são aquilo que o humorista português Ricardo Araújo Pereira bem sumulou como “autodidatas com maus professores”, pois deduzem, sem pesquisa, que estadunidense é uma invencionice recente. Não sei quando o termo nasceu, mas na edição de 1939 do Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa — organizado por Hildebrando Lima e Gustavo Barroso, e revisto por Manuel Bandeira e José Baptista da Luz — ele já aparece como verbete. Quem tiver dicionários mais antigos em mãos pode consultá-los pra escavar essa velhice.
Em segundo lugar, os sou-crítico-pois-faço-críticas absorveram com tanta fissura a cultura do meme que reproduzem o lampejo fajuto dalguém que gestou uma teoria e logo se deu por satisfeito, sem se confrontar e ser confrontado por outros. Então repetem que “a lógica do estadunidense nos levaria a chamar brasileiros de republicofederativenses, pois somos a República Federativa do Brasil, e mexicanos de estadunidenses também, já que nasceram nos Estados Unidos Mexicanos”.
O raciocínio é bom pr’agitar desqualificados e desqualificados trolls (seu MAX+ agora é MAX+Turbo), mas não resiste a uma tosse de Sócrates. O estadunidense faz referência a uma das expressões pelas quais os Estados Unidos da América são mais conhecidos: Estados Unidos. Usamos essa denominação, dispensando o América, o tempo todo. Já o México é conhecido como México, não como Estados Unidos (ninguém confunde os países); e não há evidência de brasileiro que tenha dito “nasci na República-Federativa-ponto-final”. Buscar nomes oficiais que não são usados na comunicação — às vezes nem na oficial — pra humilhar palavras habituais que fazem sentido dentro da dinâmica da língua é desespero argumentativo. É mais honrado dizer que acha a palavra feia ou muito ideologizada, e não usá-la, e defender que as outras formas continuam válidas, e evitar bufar franjas como se fosse o único herdeiro do Adão nomeador das coisas.
2.4. É claro que muitas pessoas preferem insistir na ignorância a dar o braço a torcer, especialmente quando dependem disso pr’arranjar um barato com a dopamina de baixa qualidade disponibilizada nas redes sociais. Uma dopamina tão vigarista que põe o infeliz nas alturas por um tempinho, mas logo o joga de volta pra cova, com três pazadas de terra úmida por cima. E o ciclo da droga se reinicia: céu artificial e cova real, céu artificial e cova real.
2.5. Um bom escritor transformaria essas vidas miseráveis em deliciosas empadas.
2.6. Mas algumas empadas já estão deliciosamente prontas.
3. O trecho “psicóticos crentes de que a vida é um grande cambalacho estrutural que tenciona prejudicá-los em toda esquina, bom-dia e padaria” foi uma homenagem a Irapuã Santana, que disse num tuíte que negros no Brasil não podem nem ir à padaria em paz.
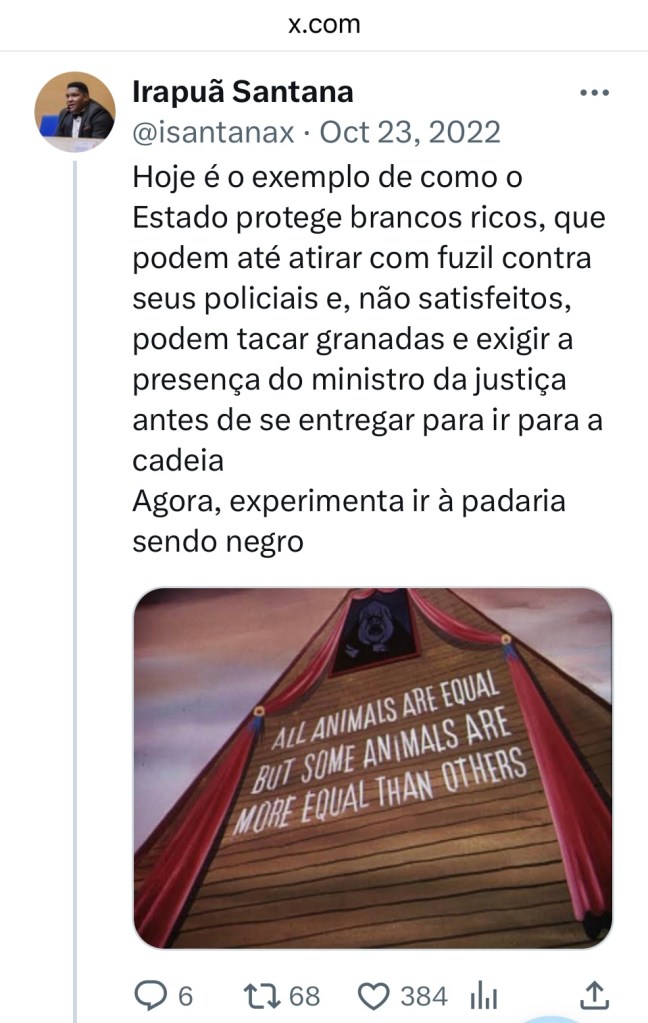
Voltarei a Irapuã quando escrever sobre a maior manifestação do racismo à brasileira: o racismo amigável, condescendente, que mesmo pessoas alinhadas ao centro, à direita e à centro-direita adotam quando tratam qualquer negro não esquerdista como um tipo de campeão intocável, um mascote, “nós também temos o nosso negro”.
3.1. Dicionários portugueses que costumo consultar só aceitam a palavra mascote no gênero feminino — a mascote —, mas dicionários brasileiros como o Michaelis e o Aulete já consagraram o hábito de falarmos o mascote e consideram que o termo aceita ambos os gêneros. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) ainda só aceita o feminino. Como muito do que soa bem ou mal na língua depende do hábito, pra mim “o mascote” é mais agradável.
4. Às vezes intelectuais se escusam como meros observadores pelo rigor da profissão. Mas às vezes fazem isso por política, ideologia e pertencimento ao grupo, pois quando é conveniente derramam opiniões pelas orelhas. Latim em pó: um passeio pela formação do nosso português, livro do escritor, tradutor e doutor em linguística Caetano W. Galindo, demonstra bem esse dualismo. Galindo é um relativista, mas do tipo que pende pelo menos 45 graus prum lado. Uma garimpagem do seu texto permite ver que lado é esse:
“entre uma população que, sim, foi escravizada cedo e muitas vezes exterminada em pouquíssimo tempo”, “violência dos europeus”, “marcha da história branca e europeia”, “preconceitos”, “escravizados”, “ideais europeus de nacionalidade e uniformidade”, “triste apagamento da imensa e verdadeira diversidade original”, “os muras-pirarrã terem sido contatados (eufemismo normalmente empregado para falar da chegada dos brancos ao mundo de um grupo indígena)”, “glotocídio”, “cerca de 5,5 milhões de africanos foram capturados e comprados […], forçados a embarcar […], trazidos como escravizados”, “centenas de milhares de pessoas foram arrancadas da África para morrer no mar”, “preconceituosa sociedade escravista”, “do nosso sempre visível preconceito racial”, “se grande parte do objetivo dos colonizadores, dos traficantes, dos capitães do mato e dos compradores de gente era desumanizar aquelas pessoas, desconsiderar suas singularidades e tratá-las como massa única de exploração”, “nunca fomos um país de brancos”, “pretoguês”, “segundo a linguagem do preconceito racial e linguístico do Brasil colônia”, “o português brasileiro foi um broto africano, flor de Luanda”, “no Brasil, o pretoguês é, num sentido muito importante, o único português real”, “repressivo professor de gramática que a escola por vezes consegue implantar para sempre na parte mais primitiva do nosso cérebro”, “marcar alguns brasileiros como menos do que outros, tenha também um fundo racial”, “em que a grafia latinx virou um dos grandes símbolos da luta contra preconceitos de gênero que estariam embutidos na língua”, “essas populações, que de maneira ignorante os europeus decidiram chamar de ‘índias’” […]
Se você extrair o que dali é panfleto — panfleto linguístico, pois não corrige lendas criadas por progressistas; panfleto histórico, pois toda hora balança o dedo prum passado que não é relativizado —, sobra um bom livro, embora bem mais curto. Em 2023, resenhei-o no Goodreads.
5. Falando em garimpagem, meu namorado, André, fez isso com Olhos d’água, de Conceição Evaristo. O parágrafo garimpeiro da sua resenha no Goodreads é este:
“Águas-lágrimas” — aí está uma amostra de mais uma fórmula que Evaristo insiste em manipular descontroladamente: neologismos compostos. O livro traz uma enxurrada deles, geralmente intragáveis: gozo-dor, gozo-pranto, barrigas-luas, buraco-saudade, buraco-céu, buraco-perna (referindo-se à vagina de Luamanda!), vida-estrada, corpos-histórias, útero-alma, alma-menina, borboleta-menina, fumacinha-menina, tempo-evento, lamento-pranto, corpo-coração, cabeça-sonho, peitos-maçãs, dedos-desejos, abrigo-coração, passo-gesto, figurinha-flor, flor-sorriso, barco-estrela, mundo-canal, ovos-vida (o saco escrotal de Di Lixão!). Destaque, ainda, para a lubrificação vaginal de Luamanda, que “lacrimevaginava” no pênis do amante da vez.
É constrangedor, mas o racismo amigável à brasileira tem pena de Conceição — idosa, negra, mulher, de origem humilde — e prefere fingir que ela é uma ótima escritora. Tão ótima que jornalistas como Rodrigo Casarin e Jamil Chade a cogitaram pro Nobel de Literatura.
6. Algumas das músicas que embalaram esta postagem:
Sebastião Tapajós — Estudo afro-samba / Opa — Back home (the inner cry) / Eddie Kendricks — Girl you need a change of mind / Alexander Robotnick — Dance boy dance / The Swingers — The flak
